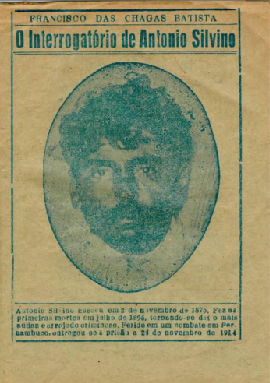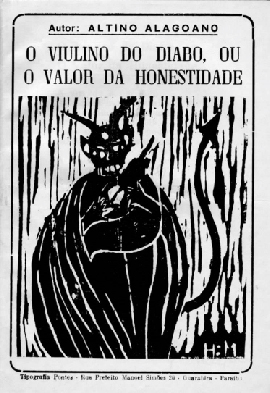ESPECIAL
Os versos e traços da literatura de cordel
Por Murilo Roncolato, Guilherme Falcão, Ariel Tonglet e Ricardo Monteiro em 03 de maio de 2017
Os versos fantásticos ou noticiosos passaram da cantoria de violeiros nas praças aos folhetos impressos. Ali o cordel criou estética própria, tendo a xilogravura como seu expoente. Hoje, a literatura com mais de um século de história mostra fôlego renovado pela internet, preservando regras, temas e beleza
De longe, quem vê, reconhece. Os folhetos coloridos são pequenos, o título vem no alto, em preto, e a ilustração típica logo embaixo. O preço de venda é muito menor que o de livros best-sellers, raramente passando de um dígito. Por dentro, versos com sílabas em rima e com número certo dão ritmo e beleza a histórias que podem tanto relembrar grandes clássicos da literatura ocidental como provocar o riso pelo deboche a um político conhecido.
Esse é o cordel, formato de publicação que se tornou símbolo de um tipo de literatura e parte da identidade nordestina. Por sua origem improvável no Brasil, pelas mãos de homens ágrafos e pobres, o cordel foi discriminado e tratado como literatura menor durante sua história. O cenário, felizmente, vem mudando nas últimas décadas.
Instituições de renome, como a Fundação Casa Rui Barbosa, o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular e a Fundação Joaquim Nabuco, contam com acervos de folhetos de cordel que visam preservar produções – que datam dos primeiros anos do século 20 – e incentivar a pesquisa sobre esse gênero da literatura.
“Tem muita coisa mais antiga, do século 19, que se perdeu. Diversos originais nós não temos. Eles podem até estar em posse de colecionadores, mas não estão aos olhos do público”, diz a pesquisadora responsável pelo projeto de digitalização do acervo de cordéis da Fundação Casa Rui Barbosa, Ivone da Silva Ramos Maya.
“Trata-se de algo muito importante para literatura brasileira”, continua Maya. “Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Manuel Bandeira, sobretudo, todos eles se referem à influência do cordel. Tem grandes novelas de cavalaria francesa em cordel, contos de “As mil e uma noites”, passagens da mitologia grega… É algo espetacular.”
A letra vem depois da voz
Os primeiros folhetos de cordel de que se tem notícia no Brasil são de origem portuguesa. O nome “cordel”, inclusive, é herança lusitana. Isso porque os folhetos com histórias em versos eram vendidos em feiras lá presos a barbantes, cordas finas… cordéis.
Por aqui, o arranjo com os barbantes se perdeu. Do exemplo português, ficou apenas o nome “cordel”. De acordo com trabalho de pesquisa da antropóloga Ruth Terra de 1983, o ano que costuma ser apontado como o marco inicial da literatura de cordel essencialmente brasileira é 1893.
1893 é o ano de inauguração do cordel brasileiro. A data é de quando Leandro Gomes de Barros publicou seus primeiros poemas
A data é de quando Leandro Gomes de Barros, paraibano nascido em 1865 e morto em 1918, teria publicado seus primeiros poemas. Seu nome é a referência máxima entre cordelistas até os dias de hoje.
Há registros de folhetos publicados anteriormente, mas não é certo se seus versos eram de autores brasileiros ou apenas uma reimpressão de cordéis portugueses. A falta de preservação dessas produções nesta época inicial não permite precisar datas (muitos folhetos nem vinham com a data de publicação impressa) ou sequer saber o conteúdo dessas histórias.
É então, entre o final do século 19 e início do 20, que surgirão os primeiros cordelistas, determinados a levar os versos antes cantados para o papel. Isso porque, antes de qualquer folheto impresso surgir no nordeste brasileiro, a poesia se fazia cantada. Os protagonistas eram os chamados cantadores ou violeiros.

De modo improvisado ou não, os músicos-poetas entoavam histórias ora reais, ora cheias de fantasia. Os versos seguiam uma métrica baseada no ritmo. O tema era o “mote”. Não raro, entre os violeiros se presenciavam as chamadas disputas, na qual cada cantador tinha a sua vez de lançar versos contra o outro, propondo desafios ou mesmo atirando ofensas.
A mais célebre – pela sua idade – talvez seja a travada entre os paraibanos Inácio da Catingueira, então escravo; e Francisco Romano Caluete ou “Romano do Teixeira”, um pequeno proprietário de terras. Há diversos relatos sobre a disputa que teria sido travada na cidade de Patos, na Paraíba, por volta de 1870. Inácio tocava um pandeiro, enquanto Romano contava com sua viola.
Discípulo de Romano, o poeta Silvino Pirauá Lima, contemporâneo de Leandro Gomes, colocou a disputa oral – denominada “peleja” – dos cantadores em versos escritos.
Romano:
“Inácio o meu martelo
foi bem feito e bem forjado
tanto ele é bom no aço
como está bem temperado
a forja a onde foi feito
trabalho em aço blindado”Inácio:
A primeira peleja de Romano do Teixeira com Inácio da Catingueira
“Seu Romano lhe garanto
que resisto ao seu martelo
ao golpe do seu facão
ao corte do seu cutelo
se não morrer na peleja
lhe vencerei no duelo”
Violeiros eram, assim, chamados para animar festas. Bem como eram figuras presentes em praças, festivais e feiras, onde esperavam alguma renda em troca da cantoria.
Outro cordel de peleja (de data desconhecida), esse de autoria de Leandro Gomes de Barros, faz referência à anterioridade das cantorias e, de forma involuntária, à importância do surgimento do cordel para a preservação dessas histórias cantadas:
“Essa história que escrevi
Peleja de Manoel Riachão com o Diabo
Não foi por mim inventada
Um velho daquela época
Tem ainda decorada
Minha aqui só são as rimas
Exceto elas, mais nada”
O cordel – ao lado do “repente”, a disputa de versos improvisados travada entre duas pessoas munidas de pandeiro – é, assim, produto da prática popular da cantoria.
A diferença capital entre um e outro é o formato: a cantoria nascia através da voz; o cordel, pelo papel. Não por acaso, cordelistas são também chamados de “poetas de gabinete”. O canto, no entanto, nunca foi totalmente abandonado. Isso porque, na bagagem herdada pelo cordel, vieram o rigor da métrica, o ritmo, bem como a prática de se ler o cordel em voz alta, entoando seus versos com a melodia típica dos cantadores.
O uso da voz como difusão dos versos escritos foi fundamental para que os cordéis conseguissem, de fato, ter algum alcance. Isso porque, de acordo com o Censo de 1906, 74,6% da população brasileira era analfabeta no início do século 20. Nos Estados do Nordeste, esse número era ainda maior.
A leitura em voz alta foi fundamental para o cordel. Isso porque a maior parte dos brasileiros era analfabeta na primeira metade do século
Em entrevista ao Nexo, o poeta, cordelista e presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel (ABLC), Gonçalo Ferreira da Silva, que em 2017 faz 80 anos, lembra da prática da leitura em voz alta do cordel em sua casa, em Ipu, no Ceará, enquanto ainda criança.
“No Ceará tinha muita cantoria, duelo verbal entre repentista e tudo o mais. Meu pai, que era barbeiro da cidade e cortava o cabelo das autoridades locais, no final de semana levava os folhetos lançados na época, como ‘O Pavão Misterioso’, ‘[Proezas de] João Grilo’, ‘O Cachorro dos Mortos’. Eu ainda não lia, mas meu pai lia pra gente. Foi como primeiro tive contato com o cordel”, disse.
As gerações do cordel
Leandro Gomes de Barros e Silvino Pirauá de Lima são tidos como pioneiros. É com o trabalho desses que não só o modo de fazer, mas de imprimir poemas se consolidou.
As máquinas de impressão são, assim, peça-chave nessa história. Quem possuía o caro maquinário eram os jornais das grandes capitais e as pequenas tipografias (antigas gráficas).

Os folhetos, pequenos, eram pensados para circular facilmente e por um preço acessível. Leandro Gomes, eventualmente, compra seu próprio prelo (ou prensa), o que lhe permite viajar, imprimir seus cordéis por conta e vendê-los em cidades onde as tipografias da capital não iam.
No cordel “A Cura da Quebradeira” (1915), ele anuncia: “Leandro Gomes de Barros, avisa que está morando em Areias, Recife e que remetterá pelo correio todos os folhetos de suas produções que lhe sejam pedidos”. Especula-se que sejam seus pouco mais de 600 cordéis.
Marco Haurélio, cordelista e pesquisador autor de “Antologia do Cordel Brasileiro” (2012), diz que Leandro Gomes é o grande responsável pelo florescimento do cordel nesse primeiro estágio no Brasil. “Acho que, na época, ele não pretendia nada, tanto que ele apenas colocava as coisas dele como continuação de uma tradição. Mas hoje a gente percebe que a coisa vai muito além da tradição. Sem romper, ele a eleva a outro patamar.”
O poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade era também um apreciador da literatura de cordel, sobretudo de Leandro Gomes. Sobre o cordelista, em crônica publicada em setembro de 1976 chamada “Leandro, o poeta”, diz: "Não foi príncipe dos poetas do asfalto, mas foi, no julgamento do povo, rei da poesia do sertão, e do Brasil em estado puro".
É dessa primeira geração de Leandro e Silvino que surgiram nomes importantes do cordel, como João Martins de Athayde (1880-1959), Francisco das Chagas Batista (1882-1930), João Melquíades Ferreira da Silva (1869-1933) e José Camelo de Melo Resende (1885-1964).
A segunda onda
Com a porta agora aberta, surgem diversos cordelistas e tipografias especializadas em cordel. Cidades como Recife (PE), Salvador (BA) e, posteriormente, Juazeiro do Norte (CE) – onde fervia o comércio e o turismo religioso provocado pela figura de Padre Cícero – tornam-se então grandes polos de produção e venda de folhetos. A atividade finalmente se tornava um meio de subsistência permitindo a cordelistas viverem de seus versos.
Nascidos já quando o cordel ocupava tanto as casas quanto as feiras, os poetas que surgem na esteira da primeira geração já possuem o entendimento da métrica, sabem como e onde imprimir seu folheto, ou ainda, compreendem as diferenças de tipos (ou subgêneros) de cordel.
Isso porque já ouviram ou leram os cordelistas que os antecederam e conheceram seus principais temas e os personagens tradicionais e queridos do grande público. É também por isso que muitos dos cordéis publicados a partir da década de 1930 e 1940 fazem referência ou continuam histórias elaboradas pelos poetas mais antigos.
Pertencem a esse segundo grupo os cordelistas José Pacheco da Rocha (1890-1954), João Ferreira de Lima (1902-1973), Manuel Camilo dos Santos (1905 -1987), José Soares (1914-1981), Manoel d’Almeida Filho (1914-1995), Rodolfo Coelho Cavalcanti (1919-1987), José João dos Santos ou “Mestre Azulão” (1932-2016) e Manoel Monteiro da Silva (1937-2014). Desta leva, ao menos três continuam produzindo até hoje, como José Costa Leite (nascido em 1927), Raimundo Santa Helena (1926) e Gonçalo Ferreira da Silva (1937).
Rima, métrica e oração
Embora grandes poetas, os fundadores do cordel foram pessoas comuns do interior nordestino, não raramente pobres e sem educação formal. Daí o rótulo “popular”, por vezes pejorativo, cravado muitas vezes depois de “poeta” ou “literatura” para referir-se ao gênero. Mesmo assim, engana-se quem pensa que, por isso, a poesia era displicente, desatrelada de regras e distante do formalismo da poesia acadêmica.
O cordel segue um conjunto de regras fechadas e rígidas: rima, métrica e oração. Os versos seguem métricas consolidadas, comuns a diversas escolas literárias, como ressalta o poeta Gonçalo Ferreira da Silva: “A literatura de cordel utiliza todas as modalidades presentes nos chamados clássicos. Desde a redondilha menor [cinco sílabas] – usado por Camões – até o Grande Alexandrino [12 sílabas]”.
A métrica de um poema define quantos versos ele terá por estrofe, quantas sílabas poéticas (separadas de modo diferente da sílaba gramatical) terá por verso, e ainda quais sílabas deverão ser as tônicas. O esquema de rimas também deve ser determinado. Por exemplo, no caso de uma estrofe com rimas no segundo, quarto e sexto versos – enquanto os demais são livres – a indicação é feita assim: “xaxaxa”.
A poesia de cordel é feita sob regras rígidas. Entre cordelistas, costuma se dizer que os versos devem sempre ser feitos com “rima, métrica e oração”
No cordel, a métrica mais popular é a sextilha, composta de seis versos de sete sílabas. É comum ainda se ver septilhas (sete versos de sete sílabas), décimas (dez versos de sete sílabas), além de “martelo agalopado” (dez versos de dez sílabas) e “galope à beira mar” (dez versos de 11 sílabas).
Juntas, métrica e rima, dão ritmo e ajudam a que cordéis inteiros possam ser cantados e memorizados.
Abaixo, veja dois exemplos de métricas presentes no cordéis. Acione os botões para ver a quebra de sílabas poéticas: elas são separadas de um modo diferente (experimente ler o verso, as quebras de leitura se refletem na separação das sílabas), podendo unir vogais em uma só, por exemplo. Lembre-se também de que as sílabas poéticas de um verso são contadas até apenas a última sílaba tônica – um verso que termina com a palavra “história”, por exemplo, a última sílaba considerada é “tó”.
Sextilha
É o formato mais popular no cordel. Suas estrofes possuem seis versos, com versos de sete sílabas poéticas. Note que o segundo, o quarto e o sexto versos rimam entre si. Esquema de rima: xaxaxa.
use este botão para ligar/desligar a quebra de sílabas
Eu /vou/ con/tar/ u/ma his/tó/ria
De um /pa/vão/ mis/te/ri/o/so
Que /le/van/tou/ vôo/ na/ Gré/cia
Com /um /ra/paz/ co/ra/jo/so
Rap/tan/do/ u/ma /con/des/sa
Fi/lha/ de um/ con/de or/gu/lho/so
Trecho inicial de “O pavão misterioso” (de José Camelo de Melo Resende), publicado na década de 1920
Martelo agalopado
Formato advindo de cantadores e repentistas, a estrutura tem dez versos, cada um com dez sílabas poéticas (sendo tônicas as terceira, sexta e décima). Esquema de rima: abbaaccddc
Vo/cê /ho/je /co/mi/go a/qui/ ga/lo/pa,
Por/que/ eu /com /can/ta/dor/ nun/ca/ zom/bo
A ma/ca/ca /ho/je/ ba/te/ no/ teu/ lom/bo,
Des/ce /san/gue/ que/ to/da a/ rou/pa en/so/pa
Se/ co/nhe/ce os/ pa/í/ses/ da/ Eu/ro/pa,
Me /res/pon/da /seus/ no/mes/ quan/tos/ são/
Po/rém/ eu /que/ro é/ den/tro /da /ra/zão/
Do/ tra/ta/do/ que /des/cre/ve/ o as/sun/to
E, /se/ não /res/pon/der/ o/ que/ per/gun/to,
Vo/cê a/pa/nha e/ se/ ca/la/ no /sa/lão/
Trecho de “Peleja de Rodolfo Coelho Cavalcante com Manoel D'Almeida Filho” (de Manoel d’Almeida Filho)
Temas e o folheto jornal
O laço histórico entre a literatura europeia medieval, os trovadores e, finalmente, os cordéis portugueses com os folhetos produzidos no Brasil se refletiu também nas temáticas das produções de Leandro Gomes e seus sucessores.
Épicos fantásticos, grandes aventuras de cavalaria, narrativas de amor ou de profunda tristeza, fábulas com a presença de animais falantes como personagens, a oposição do divino e o diabo, bem como crônicas de anti-heróis malandros, a sátira política e grandes relatos de época. Todos esses temas aparecem, somados ainda a elementos do contexto do sertanejo nordestino.

Assim a seca que castiga é tema, o aventureiro que vai atrás da riqueza dos seringais no Norte também. O cangaceiro que aterroriza cidades vira assunto, o presidente que toma posse, bem como a bebida, o jogo, a mulher, a Igreja, o sujeito mentiroso e a sogra.
O folheto de cordel acaba assim atendendo a interesses diversos do público, como entretenimento ou informação.
Poeta repórter
Em paralelo aos cordéis que imaginavam histórias com dragão ou um pavão misterioso, havia também poetas que se ocupavam de comentar fatos recentes com a urgência que cabia a um jornal. Eram os chamados folhetos circunstanciais, que tratavam de relatar a morte de um presidente, o resultado do jogo de futebol ou o crime que chocou a cidade.
Para o cordelista Gonçalo Ferreira da Silva, da ABLC, “a contribuição mais importante do cordel foi como jornal”. “Ele era o veículo da maior confiança do nordestino. Veja, por ocasião da morte de Getúlio, as pessoas se aglutinavam nas estações aguardando a notícia da capital vinda do jornal. Mas tinha quem só acreditava se viesse a notícia em cordel”, relembra.
A professora e pesquisadora, Ivone da Silva Ramos Maya, diz que é preciso ponderar mais sobre a máxima de que o cordel foi “a grande mídia” do nordeste.
“Não há dados muitos específicos para afirmar uma coisa dessas, nem para desmentir. Como mensurar? Leandro Gomes, em 1910, fala da passagem do cometa Halley. Isso foi um fato histórico que deve ter tido uma repercussão enorme, mas nós não sabemos quantos leitores teriam se beneficiado da informação dele”, diz.
E completa: “Acho que foi uma mídia importante, sobretudo no ambiente rural. Mas nas grandes cidades como Recife, já urbano, será que tinha o mesmo papel? Difícil dizer.”
Alguns poetas se dedicaram ao “cordel circunstancial”, versando sobre fatos do cotidiano, seja o jogo de futebol ou o novo presidente
Além de Leandro, muitos foram os que se dedicaram à versificação de fatos do dia a dia. Mas entre os autores, há aqueles que se tornaram grandes referências no assunto.
É o caso de um cordelista que assinava seus trabalhos como “José Soares (Poeta Repórter)”. Paraibano nascido em 1914 em Alagoa Grande, viveu parte da sua vida também no Rio de Janeiro e no Recife, onde chegou a ser dono de uma gráfica. Costumava ouvir o noticiário pelo rádio ou assistir pela TV com bloco de papel e lápis à mão.
Assim, Soares escreveu cordéis como “Anistia Ampla e a volta de Arraes” (“Câmara, Congresso e governo / Numa atitude bendita / deram anistia aos políticos / ampla, mas não irrestrita / os políticos receberam / com alegria inaudita”), “O homem na Lua” (“Foi a nave Apolo 11 / Em viagem rotatória / Que deixou aqui a lua / Uma estrada transitória / E voltou do extranho Cosmo / Trazendo o cetro da glória”) e “A mãe que matou o filho em Limoeiro” ("Em Limoeiro a doméstica / Maria da Conceição / matou com faca peixeira / seu filho do coração / com 4 anos de idade / que chamava João”).
Além dele, José Gomes (1907-1964), mais conhecido como “Cuíca de Santo Amaro”, arrebanhou milhares de leitores para seus relatos poéticos sobre Salvador. Esse se intitulava “trovador repórter” ou ainda se referia a seus cordéis como sendo uma “reportagem da autoridade local”. Gozava do prestígio do seu título e da credibilidade entre os leitores desafiando seus inimigos com o poder da sua escrita.
“Sou homem desassombrado Sem ter medo de careta Não pensem que ninguém Me prende em sua gaveta Quem assim o tentar Sapeco-lhes a caneta”
Por que candidatei-me a vereador
Em 1963, foi ele o repórter a noticiar em versos a briga “David Nasser X Brizola” no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, entre o então deputado Leonel Brizola e seu desafeto, o jornalista David Nasser ("Quando o Deputado Brizola / Viu o Nasser naquele lugar / Com a aparência / De quem ia viajar / Disse a queima roupa / Vire-se porque vais apanhar"). Em “O médico tarado”, usou da sua poesia para fazer denúncia segundo relatos de um “informante”. “Certa feita o dito médico / Segundo diz o informante / Com uma creancinha / Num gesto deselegante / Sem pressentir / fora pegado em flagrante”.
Cordéis circunstanciais ou de época
Abaixo, exemplos de temas que foram assunto desse tipo de cordel. Entre eles, o cangaço, as secas, o futebol e a política.
1904
Cangaço e crime
“Leitor, em versos rimados
Vou minha história contar
Os crimes que pratiquei
Venho agora confessar
Jurando que da verdade
Jamais me hei de afastar” “História de Antonio Silvino” (1930)Francisco das Chagas Batista
Os bandos de cangaceiros, grupos armados que aterrorizavam cidades nos Estados do sertão nordestino desde fins do século 19, foram temas de diversos cordéis. Dentre os cangaceiros mais famosos, estão Jesuíno Brilhante (1844-1879), Antonio Silvino (1875-1944) e Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião (1898-1938). É retrato dessa época “A vida de Antonio Silvino”, de Francisco das Chagas Batista, publicado em 1904 e reeditado diversas vezes depois.
1910
Cometa Halley
“Eu andava aos meus negocios
Na cidade de Natal
No hotel que hospedei-me
Apareceu um jornal
Que dizia que no céu
Se divulgava um sinal
O sinal era o cometa
Que devia aparecer
Em maio, no dia 18
Tudo havia de morrer
Aí sentei-me no banco
Principiei a gemer” “O cometa” (1910)
Leandro Gomes de Barros
Em 1910, o cometa Halley pôde ser visto da Terra enquanto atingia o ponto da sua órbita mais próximo do Sol. Na época, boatos de que ele espalharia um gás venenoso causaram pânico. A passagem do cometa foi tema de cordéis, como o “O cometa” (ao lado, a ilustração da capa), de Leandro Gomes de Barros, no qual o autor relata o medo que sentiu. Em 1986, o cometa Halley pôde ser novamente visto, mas provocando um espetáculo menor. Houve quem nem o tenha conseguido ver, caso do cordelista Sá de João Pessoa. Em “Cadê o Cometa? Ninguém sabe, ninguém viu...”, ele diz: “Passou o cometa Halley / Que grande decepção / Dizem que tinha uma cauda / Parecendo assombração / Mas não vi o tal cometa / Pro mode a poluição”.
1916
Seca no Nordeste
“É o diabo de luto
no ano que no sertão
se finda o mês de Janeiro
e ninguém ouve trovão
o sertanejo não tira,
o olho do matulão
(...)
Se meu padrim padre Cícero
quiser me favorecer,
eu garanto que amanhã
quando o sol aparecer
nós já sabemos da terra
onde ache o que comer” “O retirante” (1916)
João Martins de Athayde
Nos idos de 1870, Estados no Nordeste brasileiro, sobretudo o Ceará, sofreram uma das piores secas da história. Em 1915, e nos anos que seguiram, a seca voltou. Tão mortal como antes. Na Europa, a destruição era causada pela Primeira Guerra Mundial. No sertão, pela falta de água. Além da escritora Rachel de Queiroz (“O Quinze”) e o cordelista João Martins de Athayde (“O retirante”), Leandro Gomes de Barros também retratou a situação em “A crise actual e o augmento do selo” (1915): “No sertão não houve inverno / No Sul também não choveu / Nos brejos mais na caatinga / Nem sereno apareceu / Está de uma forma este ano / Que nem o sapê nasceu”. Ao lado, xilogravura "Sertão sem água", de J. Borges.
1951
Levados pela borracha
“Diz Joãozinho: tenho um plano
isto eu te posso afirmar
irei para o Amazonas
trabalharei sem cessar
e lá vou ser seringueiro
é negócio pra lucrar” “História de Joãozinho e Mariquinha” (1951)
José Camelo de Melo Resende
O ciclo da borracha, tanto o primeiro (entre o fim do século 19 e começo do 20) quanto o segundo (durante a Segunda Guerra Mundial), aparecem em cordéis em meio às narrativas principais. Isso porque dezenas de milhares migraram para os seringais na Amazônia atrás da fortuna que viria da extração do látex. Sonho esse incentivado por governos estaduais, seguido do federal sob Getúlio Vargas. A desilusão aparece no cordel de Raimundo Alves de Oliveira, “Declaração e lamento do soldado da borracha”, como foram chamados esses trabalhadores migrantes. “De toda minha viagem / Já dei a declaração / Agora vou dizer / fazendo uma exclamação: / O seringueiro sofre muito / na sua profissão”.
1954
Morte de Getúlio Vargas
“Assim foi na madrugada
De vinte e quatro de agosto
Obrigado a assinar
Licença contra seu gosto
Cravando assim sua alma
Com o punhal do desgosto
Vendo rasgados os votos
De milhões de eleitores
E ele sem poder mais
Defender os sofredores
Preferiu a morte honrada
Que seguir os traidores” “A morte do maior presidente do Brasil” (1954)
Manoel D'Almeida Filho
Pressionado por militares e com seu governo em crise, o presidente Getúlio Vargas assinou sua licença à frente do Poder Executivo e, em seguida, cometeu suicídio, em agosto de 1954, após 19 anos (não seguidos) de governo. A morte do “pai dos pobres” abalou a maior parte da população, fato que se refletiu em cordéis, como “A morte do maior presidente do Brasil”, do paraibano Manoel D’Almeida Filho, no mesmo ano.
1960
Nasce Brasília
“És, Brasília, a capital
deste "país do futuro"
Brasil, cujo grande povo
já não tateia no escuro
e marcha, firme, sem medo
nas próprias forças, seguro” “ABC para Brasília” (1960)
Paulo Nunes Batista
A inauguração de Brasília, obra que foi cartaz de todo o governo de Juscelino Kubitschek, causou grande comoção e orgulho na população. Paulo Nunes Batista, paraibano filho de Francisco das Chagas Batista, é um dos que ecoaram a satisfação pela construção da nova capital em seu cordel “ABC para Brasília”, publicado no mesmo ano de fundação. Ao lado, xilogravura de Erivaldo Ferreira da Silva.
1970
A nossa taça do Mundo
“No estadio El Jalisco
No México, Guadalajara
O Brasil ganhou a Copa
Coisa que está na cara
Trouxe o Canecão de Ouro
Uma coisa muito rara” “Brasil, campeão do mundo 1970. Agora, a taça é nossa!” (1970)
José Francisco Soares
Em 1970, o Brasil estava empatado com Uruguai e Itália em número de títulos mundiais de futebol. Naquele ano, no entanto, o país levou a taça na Copa do Mundo, realizada no México, tornando-se o único tricampeão do mundo, vencendo todas as partidas em uma campanha perfeita. Muitos foram os cordelistas que fizeram sua comemoração em forma de cordel. Destaque para José Francisco Soares, o “Poeta Repórter”, que diversas vezes levou o tema do esporte para os folhetos, com o seu “Brasil, campeão do mundo 1970”.
1992
Impeachment de Collor
“Desperta, Brasil, desperta
pátria santa e exemplar
ouve estes simples versos
dum poeta popular
sobre a renúncia de Collor
e a posse de Itamar
Falo de um presidente
que ganhou a eleição
dia 15 de novembro
pra governar a nação
porém o seu plano era
trair a população” “A renúncia de Collor e a posse de Itamar!” (1992)
Apolônio Alves dos Santos
A produção contemporânea de cordéis não deixou também de retratar o impedimento de Fernando Collor de Mello, em 1992. Foi o caso do cordelista paraibano Apolônio Alves dos Santos, morto em 1998 aos 66 anos, em “A renúncia de Collor e a posse de Itamar”. Ao lado, ilustração de Sinezio Alves.
A evolução estética
O cordel não se forma apenas de palavra e ritmo. Os folhetos são conhecidos por sua estética própria. A começar pela sua estrutura de páginas. Um cordel impresso é feito a partir da dobra de folhas. Assim, o menor cordel tem oito páginas. A partir daí, o número segue a ordem de seus múltiplos (16, 24, 32, 40, 48, etc).
Os pequenos folhetos coloridos contam ainda com um último elemento característico: uma ilustração na capa. Seu surgimento alavancou as vendas de cordéis e provocou o surgimento de uma outra categoria de artistas relacionados ao cordel.
“No início do século 20, lá pelo ano de 1905, as capas eram bem simples: não tinham ilustração; só informações como título, autor e a tipografia onde havia sido impresso”, diz o pesquisador de gravura popular e professor da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), Everardo Ramos.
Segundo ele, as primeiras imagens começaram a aparecer de modo tímido, por meio de técnicas baratas. Nas gráficas da época, era comum o uso de vinhetas, desenhos impressos, como as letras tipográficas. “Eram usadas mais para decorar do que para ilustrar algo”, diz Ramos.
O pesquisador conta que Leandro Gomes de Barros – sempre ele – começou a “conjugar alguns desenhos para sugerir personagens”, resultando, agora sim, em ilustrações, ainda que simplórias.
De ilustrações simples e fotografias, a gravuras impressas em madeira, a estética das capas de folhetos mudou muito ao longo dos anos
Das mesmas gráficas, os cordelistas e editores passaram a reutilizar ilustrações de jornais. O maior problema era a falta de uma relação precisa com a história contada no cordel e seus personagens. Não demorou para que Leandro passasse a contratar ilustradores de jornais para compor ilustrações específicas para seus personagens.
“Por volta de 1910 isso começa. São desenhos feitos para o folheto e a gente sabe disso porque são retratos de situações bem específicas das histórias”, diz Ramos. “Era pouco ainda, mas só pelo fato de haver uma ilustração, o interesse do leitor pelo folheto já aumentava. E eles perceberam isso”.
Foi assim que o uso de ilustração em capas se alastrou entre os produtores de cordel. O modo de impressão era a zincogravura. Fazia-se o desenho à mão, que era então passado em placas de zinco, que serviam como molde para repetidas gravações em papel.
“Isso fez sucesso muito rapidamente. Um segundo grande editor de cordel, o João Martins de Athayde, se une ao ilustrador João Avelino da Costa e, juntos, fazem capas lindíssimas, com traços muito refinados – coisa que a zincogravura permitia – e com muita influência da caricatura de jornal”, diz.

A dupla também passou a introduzir fotografias nas capas. Eram imagens usadas como propaganda de filme, compradas dos jornais. “É dessa forma que a atriz de Hollywood, Elizabeth Taylor, aparece estampando um folheto chamado ‘A mulher no lugar do homem’. Foi uma sacada muito grande desses editores. Eram fotos baratas e que deixavam o cordel bastante sedutor”.
Desenho na madeira
As ilustrações faziam sucesso, mas eram feitas por meio de um processo custoso e que dependia da existência de gráficas dotadas do maquinário adequado. Nos lugares onde não era esse o caso, cordelistas e editores passaram a fazer uso de uma técnica alternativa, a xilogravura, que usava madeira no lugar das placas de zinco.
O desenho era então talhado diretamente na peça, sobre a qual se colocava a tinta que gravaria no papel. Isso permitiu a impressão de capas ilustradas de baixo custo que conseguiam disputar a atenção do leitor com as capas de zincogravura feitas em gráficas das capitais.
Foi o que se deu em Juazeiro do Norte, na Paraíba. A cidade já contava com diversos artistas que esculpiam sua arte, normalmente de tema religioso, em madeira e as vendiam nas feiras cheias de turistas, romeiros e devotos de Padre Cícero. Foi de lá que o editor José Bernardo da Silva (1901-1971) passou a vender cordéis estampados com xilogravuras dos artistas locais impressos pela sua Tipografia São Francisco e ganha fama.

Na metade do século 20, pesquisadores de cultura popular e folclore passaram então a se interessar pela produção de literatura da região. Ao se depararem com as capas de cordel feitas com a técnica em madeira, “eles entendem então que a xilogravura é o que é o autenticamente popular e ignoram todo o trabalho gráfico anterior”, diz o professor Everardo Ramos.
Segundo ele, é desse movimento que surge a ideia “construída” de que cordel só é cordel se tiver xilogravura. “Isso é um preconceito terrível. Tem essa coisa de que o popular tem que ser arcaico, rústico. Joãosinho Trinta já falava: ‘O povo gosta de luxo, quem gosta de miséria é intelectual’. O artista popular quando tem a condição de fazer o mais refinado, ele faz”, diz.
Ramos pondera que é um admirador da xilogravura, mas que como pesquisador “se sente na obrigação de chamar atenção para essa construção que limita o popular a uma coisa só”.
A xilogravura ganha tamanha importância que “sai” do cordel e se torna uma arte independente. Despontam então grandes xilógrafos como Mestre Noza (1897-1983), José Costa Leite (1927-), Abraão Batista (1935-), Jota Barros (1935-), Jerônimo Soares (1935-), Ciro Fernandes (1942-) e J. Borges (1935-).
Cor na capa
A última grande novidade estética em capas de cordel se dá pelas editoras que se instalaram em São Paulo e no Rio de Janeiro a partir da década de 1960, como a Editora Prelúdio, na capital paulista, sucedida pela Editora Luzeiro (ainda em atividade).
“O cordel aparece como símbolo de uma identidade nordestina em São Paulo e no Rio de Janeiro. Aí, dessas editoras, tem essa ideia de modernizar a capa e adotar a tricromia, fazendo capas coloridas, parecidas com as de revista de histórias em quadrinhos”.


O cordel de hoje
Um modo de se medir o vigor do cordel ao longo do século é olhar para as gráficas e tipografias que se dedicaram a imprimir seus folhetos. A então pesquisadora da USP (Universidade de São Paulo) Ruth Terra, em 1983, contou 20 tipografias ativas no país entre 1904 e 1930. Recife liderava com nove, o resto se distribuía entre João Pessoa e Guarabira (PB), Fortaleza (CE), Maceió (AL), Currais Novos (RN), Belém (PA) e Rio de Janeiro (RJ).
A partir da década de 1960, as tipografias de cordel no Nordeste entram em crise e muitas fecham. Caso da Tipografia São Francisco, que é comprada em 1988 pelo governo do Estado do Ceará passando a fazer parte da Universidade Regional do Cariri sob o nome Lira Nordestina.
A razão principal foi a queda nas vendas. “Naquela época, rádio e televisão ocupam o espaço que antes era do cordel, de informar e entreter”, diz o professor Everardo Ramos.
Também em 1988, o poeta Gonçalo Ferreira da Silva fundou a Academia Brasileira de Literatura de Cordel no Rio de Janeiro. Segundo ele, a motivação foi “necessidade”. “Na década de 1970, me deparei com poetas e repentistas atuando em condições sub-humanas na feira de São Cristóvão, no Rio. Pensei que era necessário criar uma casa que desse a sustentação institucional a esses artistas.” Para ele, a ABLC é hoje “vitoriosa”. Como evidência, cita convites internacionais para a composição de catálogos de cordéis fora do Brasil.
Na década de 1990, novas editoras passam a surgir, sobretudo no Nordeste. A Coqueiro surge em 1991, em Olinda (PE), publicando cordéis. Em 1998, a Tupynanquim, uma editora criada poucos anos antes em Fortaleza, passa a se dedicar inteiramente à literatura de cordel. E de Mossoró (RN), a editora e livraria Queima-Bucha, que vende caixas com coleções de cordéis clássicos e contemporâneos.
Nos últimos anos, médias e grandes editoras – como Leya, Nova Alexandria, Hedra – passaram a também contar com cordéis no catálogo, mais especificamente releituras de grandes clássicos da literatura ocidental em folheto. Assim, é fácil encontrar textos de Shakespeare, Franz Kafka, Alexandre Dumas ou Dante Alighieri adaptados para o cordel.
A publicação de cordel em livro ou folheto garante uma forma de renda para os autores. Mas há também cordelistas que tiraram proveito do surgimento da internet para publicar seus versos abertamente na rede e ganhar alcance para o seu trabalho.
Novas editoras especializadas em cordel e a internet, deram novo ar ao mercado. Novos escritores então despontaram, incluindo mulheres, até então figuras raras no cenário
Segundo o professor da USP, Paulo Iumatti, os cordelistas “vão entrar de cabeça nesse meio digital”. “Muitos poetas passaram a escrever em blogs. Com isso, as coisas se transformam. Mudam, por exemplo, as formas das pelejas, que passam agora a acontecer à distância por email, Facebook, Whatsapp, etc.”
Presença feminina
O leitor mais atento pode ter observado que nenhuma mulher foi citada entre cordelistas, ilustradores ou xilógrafos. O caso é que é dessa forma que a história do cordel se deu. A presença feminina, quando houve, foi construída sobre exemplos de coragem. Como é o caso de Maria das Neves Batista Pimentel, que entraria para a história do cordel com o nome do marido Altino, também poeta, de Alagoas. Assim nasceu o autor-autora Altino Alagoano.
Maria das Neves era filha do cordelista e editor Francisco das Chagas Batista. Sob o pseudônimo, a poeta assinou seu primeiro cordel em 1938, chamado “O violino do diabo ou o valor da honestidade”, inaugurando as produções femininas. Ela ainda publicaria “O Amor Nunca Morre” e “O Corcunda de Notre Dame”. Todos releituras de clássicos da literatura ocidental.
Em depoimento à pesquisadora Maristela Barbosa Mendonça, Maria das Neves disse que optou por assinar com um pseudônimo por ver que nomes de mulher não apareciam nas edições de cordel. “Todos os folhetos que foram vendidos na livraria de meu pai ou que foram impressos, tinham nome de homem, eram homens que faziam, não existia, naquele tempo, folheto feito por mulher, e eu, para que não fosse a única, disse: ‘Eu não vou botar meu nome’.”
Publicações com nomes de poetas mulheres surgiriam ainda de forma tímida a partir da década de 1970, processo que se consolida nos anos 2000 e com a internet. A poeta cearense Maria de Lourdes Aragão Catunda, a “Dalinha”, é uma das que compõem a leva mais recente.
“O cordel era um meio muito machista, dominado por homem, e mulher não escrevia. Se cordel era uma literatura menor, sendo de mulher era menor ainda”, diz. Catunda explica que, mesmo quando retratada nos cordéis, a posição da mulher era degradante. Coisa que muda quando é a mulher que assume a autoria dos versos.
“Antes se fazia uma imagem escrachada da mulher. Hoje a gente escreve por conta própria, com a nossa cara, nossos assuntos. Não estamos imitando o que se fazia, nós temos outros assuntos. E pra isso hoje temos ótimas representantes”, diz. “Mas, veja, nós não estamos competindo com homem, nós estamos ocupando um espaço que não existia.”
O quadro, apesar de já positivo para a participação das mulheres, ainda tem muito a melhorar. Para se ter uma ideia da relevância feminina no mundo do cordel, uma régua é olhar para as cadeiras da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Das 40 vagas para a “imortalidade” da entidade, apenas quatro são ocupadas por mulheres. São elas, além de Dalinha Cacunda, as poetas Maria Anilda Figueiredo, Alba Helena Corrêa, Maria Rosário Pinto e Salete Maria da Silva.
Cordéis recomendados
Os entrevistados consultados para este especial deram sugestões de cordéis fundamentais que podem ser lidos por quem quer se iniciar neste universo. Os folhetos abaixo listados são clássicos da literatura de cordel (alguns sem registro do ano da sua primeira publicação) ou exemplares contemporâneos dessa produção.

O Cachorro dos Mortos (19--)
Leandro Gomes de Barros (1865-1918)

O pavão misterioso (192-)
José Camelo de Melo Resende (1885-1964)

O enjeitado de Orion (1964)
Delarme Monteiro Silva (1918 - )

Viagem a São Saruê (19--)
Manoel Camilo dos Santos (1905-1987)

Os três conselhos da sorte (1970)
Manoel d’Almeida Filho (1914-1995)

Peleja do Cego Aderaldo com Zé Pretinho do Tucum (19--)
Firmino Teixeira do Amaral (1896-1926)

Proezas de João Grilo (1932)
João Ferreira de Lima (1902-1973)

Batalha de Oliveiros com Ferrabrás (1909)
Leandro Gomes de Barros (1865-1918)

O violino do Diabo ou O valor da Honestidade (1938)
Altino Alagoano (1913-1994)

Quer escrever um cordel? Aprenda a fazer fazendo (2002)
Manoel Monteiro (1937-2014)

As bravuras de Justino pelo amor de Terezinha (1992)
Gonçalo Ferreira da Silva (1937- )

Mulheres do Cariri: Mortes e Perseguição (2004)
Salete Maria da Silva (1970- )
Cordel para assistir
No decorrer desse especial você viu, de forma seriada, uma versão reduzida do cordel “Proezas de João Grilo”, de autoria de João Ferreira de Lima. Apresentamos abaixo, em um só vídeo, a adaptação da história de João Grilo e ainda a narração de parte do cordel “Grande debate de Lampião com São Pedro”, de José Pacheco. Ambos contados pelo ator João Alves. Bom proveito!
Proezas de João Grilo
Grande debate de Lampião com São Pedro
Produzido por Murilo Roncolato
Layout por Guilherme Falcão
Desenvolvimento por Ariel Tonglet
Vídeos por Ricardo Monteiro
Editado por Marina Menezes
© 2017 Nexo Jornal
Imagens de capas e xilogravuras: Fundação Casa Rui Barbosa, Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular e Academia Brasileira de Literatura de Cordel