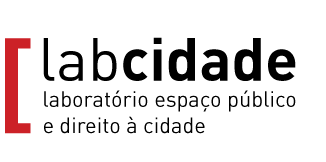Conceito importado é a palavra da moda. Mas faltam estudos empíricos sobre como o fenômeno se aplica à realidade urbana do país
De tempos em tempos alguma palavra fica na moda no debate sobre as cidades. Sem dúvida “gentrificação” é um desses termos. Não há debate sobre as cidades e suas áreas centrais em que ele não apareça de alguma forma. Justamente por isso devemos ter cuidado ao falar de gentrificação, principalmente para o caso brasileiro: o que queremos dizer quando falamos nisso? Em que medida ela ocorre atualmente? Sobretudo, em que termos a ideia de gentrificação nos ajuda (ou atrapalha) a entender o que está em jogo nas cidades brasileiras atualmente?
O termo foi cunhado em 1964 pela socióloga urbana Ruth Glass, para designar um processo bem específico: a substituição de moradores operários por grupos de maior renda em determinados bairros centrais de Londres, mantendo os mesmos edifícios. Ou seja, era um processo de transformação distinto da especulação imobiliária corporativa ou dos grandes projetos de renovação urbana.
O conceito ressoou fundo no debate urbano, principalmente entre autores progressistas. Em 1982, Sharon Zukin publicou um livro que ficou muito famoso, “Loft Living”, que descreve o processo em regiões como o Soho e o Greenwich Village, ao sul da ilha de Manhattan, em Nova Iorque. Além de ser pesquisadora, ela foi testemunha em primeira pessoa do processo de transformação da região, conforme relata na introdução de seu livro:
“[...] me interessei pelos lofts inicialmente como moradora. Em 1975 em me mudei no espaço rústico de um loft em Greenwich Village que havia sido originalmente uma fábrica de roupas no início do século XX [...] Naquele momento, a maior parte dos outros andares do edifício ainda eram ocupados por pequenos negócios, pela chamada “indústria leve”: uma metalúrgica, uma oficina de silk-screen, uma fabrica de chapéus para mulheres, dois senhores que faziam mostruários para vendedores, dois jovens marceneiros [...] O bairro também era de uso misto. Vendedores de artigos usados ocupavam as lojas. Em uma esquina um edifício grande e arruinado de tijolos , anteriormente um hotel, , havia deteriorado e era uma pensão que alugava quartos. O resto do quarteirão era feito de edifícios de lofts [...] Em dois anos, o caráter da rua tinha mudado de forma irreversível. Os proprietários de edifícios aumentaram os alugueis e se recusaram a renovar os contratos dos artesãos. A pensão havia se “desenvolvido” e se transformado em apartamentos-loft. Nos finais de semana os novos residentes tomavam sol em seus terraços [...] Em 1979 o meu edifício virou uma “co-op” [...] Os novos moradores incluíam dois advogados e um contador. Um dono de uma loja comprou um loft para viver e outro para alugar. Dois homens compraram andares puramente como investimento, e venderam-nos em um ano.”
A novidade no trabalho de Zukin era a da relevância do estilo, de viver em antigas instalações e cenários urbanos industriais remodelados como atrativo para as pessoas que desejavam ter um modo de vida cool, rapidamente transformado em produto disputado no mercado imobiliário, revelando a importância da matéria urbana e arquitetônica histórica para a transformação urbana elitizadora.
A partir da década de 1990, o termo se difundiu e se globalizou. Quem mais contribuiu para que isso acontecesse foi o geógrafo americano Neil Smith, que mostrou nexos entre os processos de gentrificação atomizados, os grandes investimentos do mercado imobiliário e as estratégias do poder público, que busca renovar trechos das cidades tendo em vista a valorização imobiliária.
Gentrificação no Brasil
É na segunda metade da década de 1990 que o termo chegou de fato no debate urbano no Brasil. A ideia de uma “gentrificação generalizada” defendida por autores como Neil Smith foi muito funcional em uma situação de disputa pelas áreas centrais das maiores cidades do país.
São Paulo foi protagonista no emprego da ideia de gentrificação. Na segunda metade da década de 1990, dois processos se instalaram nas áreas centrais da cidade: por um lado movimentos sociais de luta por moradia começaram a ocupar edifícios vazios, com a compreensão de que a luta por moradia não se resumia a um teto. Por outro lado, algumas intervenções públicas massivas na área central, como a Sala São Paulo, destinada a concertos de música erudita, tentavam trazer de volta as elites para as regiões centrais que eram vistas como abandonadas por muitos.
Tínhamos portanto três elementos juntos: a circulação do conceito teórico em meios acadêmicos; indícios empíricos de tentativas de elitização capitaneadas pelo poder público; e atores sociais disputando os mesmos territórios centrais. Fazia bastante sentido falar dos riscos da gentrificação, e continuamos falando dela até hoje.
De lá para cá só se faz falar mais de gentrificação. Atualmente chamamos de gentrificação uma série de fenômenos relacionados à desigualdade, segregação, revitalização, projetos urbanos, reutilização de edifícios antigos. Quase todos os efeitos do estágio atual do capitalismo nas cidades acabam se associando a essa ideia. Isso é arriscado, pois quanto mais sentidos um termo tem, menos preciso ele fica. Ocorre mais ou menos a mesma coisa com o termo “globalização”. Recentemente começaram a aparecer em inglês os chamados “Readers” sobre gentrificação, guias acadêmicos que nos ajudam a entender um debate em meio às centenas de pesquisas e artigos publicados sobre uma temática específica.
Olhando para o caso das cidades brasileiras na contemporaneidade, vejo duas questões relevantes quando tratamos do assunto: a necessidade de qualificá-la e quantificá-la, e o desafio de superar a simples enunciação do problema, e pensar na ação.
Sobre o primeiro ponto. Já sabemos que a gentrificação é algo negativo, mas onde e como ela acontece? A gentrificação no sentido estrito, que é a substituição de grupos populares por outros de renda mais alta, acontece de forma bastante restrita na cidade. Pegando novamente o exemplo de São Paulo, cidade que conheço melhor por ser onde vivo, pode estar acontecendo gentrificação em alguns pedaços de Santa Cecília e Vila Buarque, bairros da região central paulistana, mas são necessários estudos mais aprofundados para mensurar o fenômeno. Precisamos ir além de tirar uma foto de um bar hipster com gente tomando café na calçada e chamar de gentrificação. Quem mora nos andares superiores desse prédio? Quando chegou? Quem saiu? Os que foram embora, saíram por que razão? Para onde foram? E os que chegaram, de onde saíram? O que aconteceu com a casa anterior dessas pessoas?
Existem muitas razões para a saída de alguém de uma casa: a passagem de uma situação de aluguel para uma de propriedade, despejo, fim de um contrato de aluguel com a opção de mudança, morte, separação, mudança de residência vinculada a mudança de emprego, casamento, formação de república de estudantes, demolição para construção de novo edifício, etc. Cada uma dessas mudanças interfere no mercado imobiliário, e algumas perguntas devem ser feitas: qual era a renda de quem vivia antes nessa casa? Qual é a renda de quem entra na casa que ficou desocupada?
Se conseguirmos coletar os dados e analisá-los em série poderemos identificar tendências, de estabilidade, enobrecimento ou empobrecimento de uma região. E tudo isso precisa ser feito levando em conta a posição relativa das famílias na pirâmide social, e não a renda nominal. Isso porque em alguns períodos acontece um aumento de renda da sociedade como um todo, e o que pode parecer gentrificação é simplesmente um aumento generalizado do bem-estar das pessoas, que passam a se vestir melhor a poder consumir mais. Aconteceu entre os mais pobres no Brasil entre 2003 e 2014.
Em alguns casos a troca de faixa de renda da população vivendo em um bairro é evidente. Não precisamos fazer estudos para perceber que a população da Vila Madalena, bairro da zona oeste paulistana, mudou inteiramente de feição nas últimas décadas. Até os anos 1970 era um bairro cheio de cortiços e casas de fundos, com uma razoável presença de população negra. Atualmente tem bares, restaurantes e prédios de alta renda.
Mas na maior parte dos lugares as mudanças não são tão evidentes e aí precisamos ir além da superfície. Entre 2000 e 2010 por exemplo, não houve gentrificação em grande escala nos bairros centrais de São Paulo conforme os dados do Censo. Ao contrário: algumas partes do Centro se popularizaram, como o Brás, o Pari, o Bom Retiro.
Existe nesses bairros – com situações semelhantes em todas as grandes cidades brasileiras – um conjunto de processos relacionados à moradia de baixa renda: encortiçamento; contratos não regulados pelas leis do inquilinato resultando em despejos repentinos; aluguéis abusivos; coabitação; altas rotatividades. Todos esses processos são perversos e atingem as populações mais vulneráveis, que frequentemente vão parar na rua. Mas se a região não se elitiza, nada disso pode ser chamado de gentrificação.
Até mesmo uma grande atividade do mercado imobiliário pode dar uma falsa imagem de gentrificação. Edifícios recém-construídos têm sempre boa aparência, e dão ótimas fotos de denúncia, principalmente se situados ao lado de outros antigos em mau estado de conservação. Mas a chave para entender se ocorre a gentrificação não são os prédios, e sim os moradores. Quem são eles? Qual a sua renda? Nem sempre os moradores dos novos edifícios são gente mais rica do que os moradores originais ou do que a média do bairro.
Nos anos recentes têm aparecido imóveis muito pequenos em bairros de elite de São Paulo. Esses lançamentos são um sucesso de venda, e mostram que muita gente que não teria dinheiro para comprar imóveis grandes prefere se apertar em apartamentos pequenos, desde que em bairros que considera bons. Isso não me parece ser gentrificação, é outra coisa.
Os melhores estudos na América Latina sobre essa temática são os da geógrafa Yasna Contreras sobre Santiago, que aponta que ocorrem em paralelo nas áreas centrais da capital chilena processos de gentrificação e processos de desgentrificação. Acredito que em São Paulo aconteça a mesma coisa, e são processos diferentes da gentrificação generalizada que se verificou e se verifica em capitais do norte como Londres, Paris e Nova Iorque, porque não temos classes médias-altas suficientes para ocupar tantos imóveis. O fato é que não temos ainda bons estudos empíricos sobre isto.É um desafio de pesquisa.
O segundo ponto importante é ir além do uso do termo como denúncia. Já sabemos que a gentrificação existe, já sabemos que ela é insidiosa. E agora? Como enfrentá-la? Como se antecipar a ela? Recuso a ideia de que o futuro já está dado: ele está em disputa e depende de nós, atores sociais que estamos construindo, no presente, o mundo do futuro.
Várias cidades do mundo têm feito iniciativas nesse sentido. Em que medida elas estão funcionando? Como podemos aproveitar essas ideias? Por exemplo, Paris anunciou em 2015 medidas destinadas a enfrentar a gentrificação baseadas no que chamamos aqui de “Direito de preempção”, o direito de o poder público exercer a preferência na compra de imóveis no mercado.Neukolln, o distrito hipster de Berlim implementou em 2016 uma lei destinada a combater a especulação com imóveis antigos, proibindo por exemplo a junção de dois apartamentos em um maior e dando ao poder público poder de veto em transações imobiliárias.
Em muitas cidades no mundo anglo-saxão desde a década de 1990 existem os Community land trusts, que podemos traduzir como “Fundos Comunitários de Terras”, instrumentos que buscam retirar terras dos mercados especulativos instituindo propriedades coletivas. Precisamos fazer perguntas como: essas medidas vêm sendo implementadas? Vêm tendo o impacto desejado? Como podem ser aperfeiçoadas? Por aqui existem umas poucas iniciativas, que também precisam ser acompanhadas e estudadas. Me preocupa que tanta gente se limita a apenas falar de gentrificação com preocupação, enquanto pouca gente está empenhada em conhecer, entender e problematizar as tentativas de enfrentá-la. Uma coisa é certa: apenas falar de gentrificação na mesa do bar com os amigos não vai adiantar, é necessário conhecer o que está sendo pensado no mundo, para fundamentar ações.
O conceito de gentrificação é muito importante para todos os que estão preocupados com a democratização das cidades. A gentrificação – como fenômeno presente e como ameaça no futuro – é algo perverso, principalmente no momento em que estamos vivendo, em que há uma renovada atenção para as regiões centrais. Mas no contexto das grandes cidades brasileiras precisamos aprender a identificá-la com mais precisão, a medi-la e, principalmente, a colocar nossa inteligência em marcha para construir maneiras de enfrentá-la.